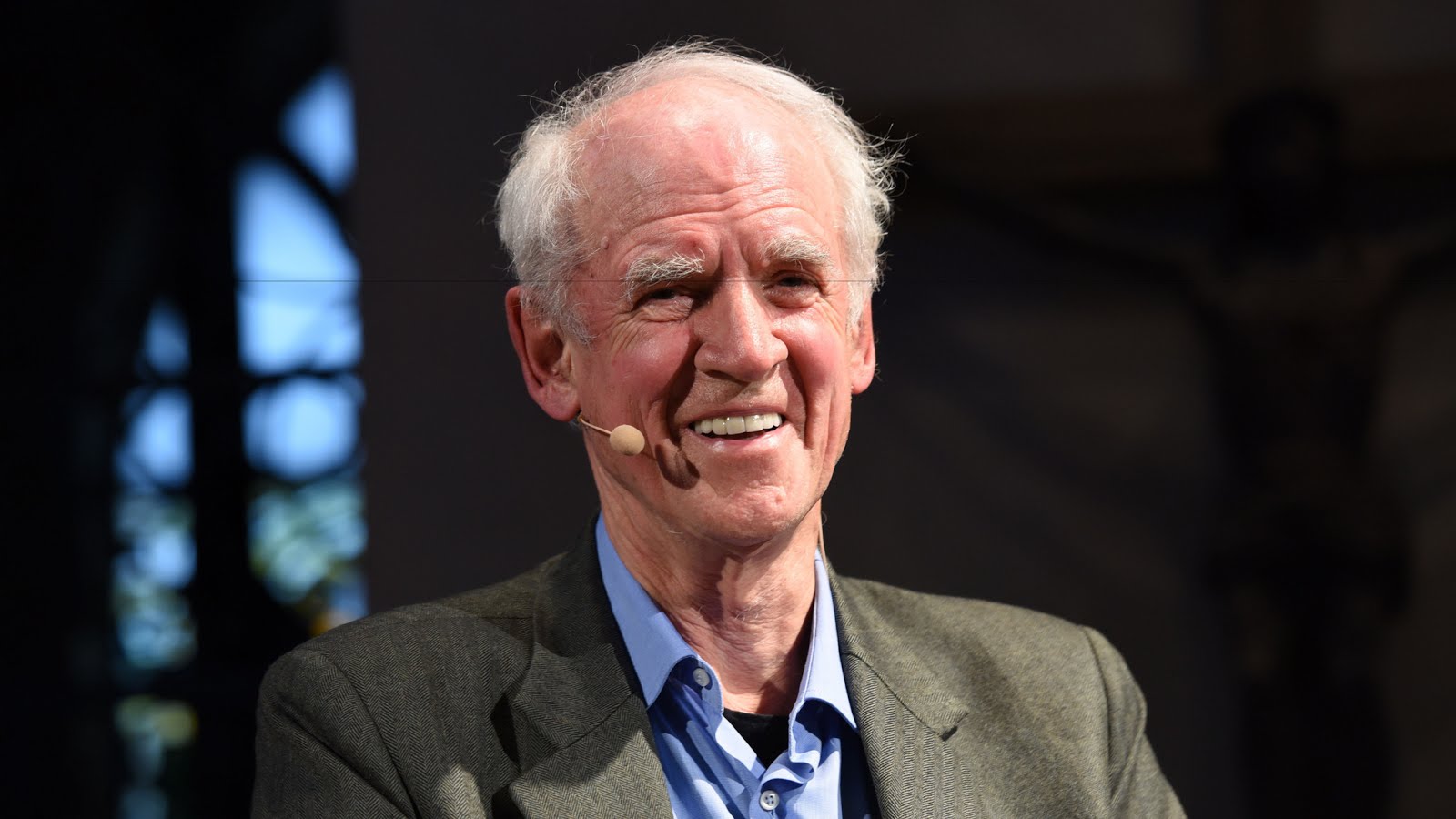Admirável Cidade Nova
Ensina-nos a tradição
conservadora que o estudo da História, longe de dever ser encarado com receios
quase supersticiosos, encerra ensinamentos lapidares sobre o percurso colectivo
de um povo que, como explica o Visconde de Bolingbroke no seu Letters On the
Use of History, constituem uma ferramenta “conveniente para nos educar para
a virtude pública e privada”. Trocado por miúdos, desprezar as lições da
História é pedir para repetir os seus erros.
Tristemente – e essa é uma das
lições que a História nos ensina - , muitos foram os regimes e as doutrinas a
deixar-se seduzir pela perspectiva de, ao invés de se submeterem ao escrutínio
da História, a temperarem a gosto, retalhando e reescrevendo conforme melhor
servisse os seus intentos. A “tentação totalitária”, como lhe chamou Revel, é
fazer do passado tábua rasa e da revolução momento fundacional de uma sociedade
nova; de um Homem novo.
Vem esta reflexão a propósito
da recente decisão do vereador José Sá Fernandes de, negligenciando
propositadamente a manutenção do jardim da Praça do Império, apagar do coração
de Lisboa aquele espaço levantado pelo Estado Novo.
É certo que, quando comparadas
com os morticínios do jacobinismo ou com as purgas de Stalin, as incursões pela
botânica do eleito bloquista - perdão, independente - se afigurarão pouco
relevantes. Porém, a elas presidem os mesmos princípios que inspiraram os
prosélitos do revisionismo histórico a massacrar multidões nos altares dos
"novos valores". Aliás, bem vistas as coisas, o voluntarismo do
vereador não andará assim tão longe da política do espírito em nome da
qual o regime salazarista e o seu Secretariado de Propaganda Nacional
politizaram largos períodos da História lusa.
O Sr. Sá Fernandes, como os jacobinos,
parece acreditar que a repetição dos autoritarismos do passado pode ser
prevenida através de um novo autoritarismo, desta feita exercido sobre o
património. Da mente de onde saiu tamanha genialidade, as massas alfacinhas –
e, porque não dizê-lo, mundiais – reclamam agora maior arrojo ainda: para
soterrar definitivamente o colonialismo, demula-se o Padrão dos Descobrimentos;
para trucidar o fascismo, arrase-se com o viaduto Duarte Pacheco. Admito que os
exemplos pareçam ridículos, mas a tese que a eles preside não difere. E, em boa
verdade, não me parece particularmente assisado que o combate a um erro se faça
mediante a promoção de outro.
Para além do mais, que se
saiba, o Sr. Sá Fernandes será uma infinitude de coisas, mas proprietário exclusivo
da herança patrimonial lusa não parece ser uma delas. E aconselharia o bom
senso que um tamanho paladino do sistema democrático submetesse os seus
proselitismos à aprovação de uma reunião camarária ou da Assembleia Municipal que o escrutina. Arrisco
mesmo afiançar que talvez isso fosse um contributo mais notável para a
preservação do sistema democrático do que o soterramento em ervas daninhas de
um jardim histórico lisboeta.
Quanto aos brasões, juro, se libertados
da profusão de plantas que presentemente os asfixiam, não vão lançar-se em
gritos de Angola é Nossa ou apelar à anexação de Cabo Verde. Darão,
porém, testemunho de uma realidade porventura alheia ao Sr. Sá Fernandes: que a
História de Lisboa não começou com a sua eleição para vereador; que Portugal
tem um passado milenar marcado por uma presença pluricontinental que, longe de
estar isenta de erros, não merece por isso ser escamoteada da esfera pública;
que a portugalidade se faz de laços culturais e linguísticos e não de uma
constante vergonha do passado. E que, na magnífica formulação de Edmund Burke, “aqueles
que desconhecem a História estão condenados a repeti-la.”
Como bem nos ensinam as
autoridades polacas e alemãs ao manter abertos e visitáveis os antigos campos de
concentração nazis, exibir – e estudar – as marcas do passado é condição
necessária para evitar incorrer nos mesmos erros. É por isso que o património
faz falta. Mais do que o Zé.